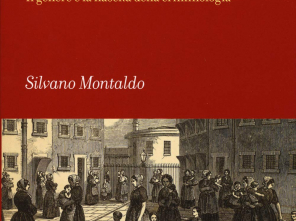Lilia M. Schwarcz, Heloisa M. Starling, A bailarina da morte. A gripe espanhola no Brasil, São Paulo, Companhia das Letras, 2020
Ou como a gripe espanhola é “boa para pensar” a Covid -19 no Brasil
A bailarina da morte é uma “tentativa de compilar narrativas do passado e inscrevê-las no tempo presente”1. Assim as autoras definem o propósito de recuperar a história da passagem da gripe espanhola pelo território brasileiro, precisamente quando o país enfrenta, de forma dramática, a pandemia do novo coronavírus. Quando o livro foi lançado, em outubro de 2020, o Brasil já somava mais de 150 mil vítimas da doença. Seis meses depois, chegamos a impensáveis 350 mil vidas perdidas.
Lilia Schwarcz, antropóloga, e Heloisa Starling, historiadora, ambas com longa trajetória de pesquisa, buscam na história da gripe espanhola recursos para inquirir e interpretar a tragédia brasileira contemporânea. E o fazem de forma muito eficiente, provocando o leitor a exercitar, ele próprio, o cotejamento entre passado e presente, convidando-o a bailar com elas pelo Brasil de 1918 e, nesse traçado, surpreender-se com semelhanças e refletir sobre diferenças e continuidades.
O texto claro e despido de academicismos facilita o bailado, ainda que nele se entreveja farta pesquisa bibliográfica e em fontes periódicas, sobretudo jornais. As referências aparecem ao final do livro, organizadas por capítulo. Breves textos jornalísticos, algumas caricaturas e fotografias são reproduzidos ao longo das mais de trezentas páginas do livro. Textos de cunho memorialista ajudam a criar o ambiente das primeiras décadas do século XX no Brasil. É o caso de trechos de escritores consagrados como Pedro Nava, Érico Veríssimo e Nelson Rodrigues, cuja reprodução agrega às descrições jornalísticas a dimensão mais pessoal e subjetiva da experiência. Um detalhe que não passa despercebido são as epígrafes de cada capítulo: de Fernando Pessoa a Albert Camus, passando por Caetano Veloso e o líder indígena Ailton Krenak, são pílulas literárias sobre a vida, a morte, o cotidiano e o sagrado que as autoras oferecem ao leitor.
A contextualização minuciosa é linha de força da obra. De forma resumida, é possível dizer que o livro propõe um roteiro pelo Brasil seguindo os passos da espanhola. Nesse roteiro, é a República ainda nascente que vai se revelando com suas marcas de exclusão, desigualdade e mandonismo. O quadro geral de precariedade sanitária e assistência médica deficiente é conformado pelos contextos políticos locais, determinantes para as reações à chegada do vírus, o ritmo das medidas de combate à doença e as disputas em torno de sua eficácia.
Os ambientes urbanos mereceram especial atenção das autoras, que traçaram o perfil do Distrito Federal (Rio de Janeiro) e de sete capitais de estados do país -Recife, Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém e Manaus-, cidades que serviram de porta de entrada para o vírus a partir dos primeiros dias de setembro de 1918. Por meio dessa estratégia narrativa, a experiência da epidemia vai assumindo características particulares devido à configuração dos poderes locais, mas também à geografia humana e ao perfil cultural de cada cidade. Com isso, o livro não propõe apenas um jogo entre passado e presente. Diferenças e semelhanças operam também sincronicamente, já que cada região viveu a chegada e os efeitos da espanhola de forma específica, a despeito de elementos comuns. Mesmo no interior de cada cidade, as diferenças vão se revelando conforme a narrativa conduz o leitor pelas áreas centrais, muitas delas reformadas segundo modelos europeus de beleza e higiene vigentes naquele começo de século, e avança pelas regiões portuárias e periferias habitadas pela população pobre, em sua maioria negra ou imigrante, expulsa das regiões nobres das cidades com a destruição de cortiços e velhos casarios populares.
Nesse percurso, impossível não pensar na realidade urbana contemporânea, na continuidade de padrões segregadores de ocupação do espaço e na persistência de condições sanitárias profundamente desiguais, que fazem com que a “aparência democrática” da pandemia, tanto ontem como hoje, tenha que ser bastante relativizada. Embora qualquer pessoa possa ser contaminada, as populações mais vulneráveis são atingidas de forma muito mais grave e intensa. Essas continuidades são sutilmente apontadas ao longo do texto (e explicitadas nas conclusões), mas o diálogo entre passado e presente resulta, sobretudo, do roteiro primoroso e nada anódino proposto pelas autoras. Nesse jogo entre distintas temporalidades e espacialidades o leitor vai conformando sua compreensão das epidemias, a de 1918 e a atual.
O contexto mais amplo no qual a espanhola eclodiu, em plena I Guerra Mundial, é esboçado logo no início do livro e explica o fato de a gripe ter recebido, em cada lugar, o nome do inimigo (os soldados alemães a designaram “febre de Flandres” enquanto os poloneses a chamaram de “gripe bolchevique”), seguindo uma tradição que remontaria à Idade Média, de nomear a peste com o nome do estrangeiro, o “outro” que se busca culpabilizar. O uso político do “vírus chinês” na campanha à reeleição do ex-presidente Donald Trump não constituiu, portanto, grande novidade. O fato de a epidemia de 1918 ter se tornado conhecida como “gripe espanhola” decorreu exatamente da geopolítica da guerra: como a Espanha se manteve neutra durante o conflito, os jornais locais puderam noticiar o aparecimento da doença sem que “razões de Estado” censurassem a notícia.
A guerra explicaria, portanto, a demora para que as potências ocidentais, exauridas pelo confronto e evitando admitir qualquer fragilidade diante do inimigo, reconhecessem a presença da doença. A resistência em assumir a gravidade da situação é, aliás, um dos traços mais destacados da chegada da gripe ao Brasil, mas aqui as razões são um pouco diferentes. Como os governos estaduais não tinham infraestrutura para o enfrentamento da crise sanitária, negar a doença foi uma estratégia recorrente para tentar conter as críticas da oposição e as chamadas “desordens sociais”. Além disso, admitir a gravidade da situação implicava tomar decisões que impactariam o transporte fluvial, a circulação de mercadorias, a indústria e o comércio. E quanto mais frágil o poder local, menor a disposição para assumir o ônus de medidas impopulares. A falsa oposição entre o combate à doença e a manutenção da economia durou pouco em 1918, pois a rapidez com que a espanhola fez suas vítimas praticamente impôs, em muitas cidades, o fechamento de lojas, mercados, escolas, quartéis e igrejas.
Apenas em Belo Horizonte, das oito cidades visitadas no texto, o vírus pôde ser enfrentado de maneira mais aberta e objetiva. Isso se deveu à relativa estabilidade da aliança vigente entre as oligarquias mineiras. Com o aumento dos casos, o fechamento de escolas e do comércio foi decretado sem grandes reações. Já em Recife, o número de mortos informado pela Diretoria de Higiene e Saúde Pública foi subdimensionado para atender a interesses do então presidente do estado, que enfrentava oposição aguerrida. Os dados oficiais levantaram suspeitas no jornal A Província, que organizou uma vigília de repórteres no cemitério da cidade para verificar o número de enterros e denunciou a artimanha.
A imprensa, aliás, foi ator importante em 1918, contestando dados oficiais, realizando investigações e orientando a população. Foi destacado seu papel no Rio Grande do Sul, estado governado por poderoso chefe político, que, buscando esquivar-se da responsabilidade de gerir a crise sanitária, declarou que o vírus acometia com gravidade apenas pessoas cuja saúde estivesse comprometida. Com o aumento do número de mortes, os jornais contestaram o discurso oficial e criticaram a morosidade do poder local para enfrentar a crise. O governo impôs censura à imprensa, alegando que as matérias difundiam pânico, mas nem todos os jornais se curvaram. O Correio do Povo publicou colunas em branco em sinal de protesto, mantendo firme postura de oposição. No Distrito Federal, O Paiz lançou uma coluna intitulada “A Influenza Hespanhola” com conselhos aos leitores acerca de cuidados a serem tomados: higienizar as mãos, evitar aglomerações e usar máscaras!
Os pactos oligárquicos, mais ou menos estáveis, vão sendo desenhados conforme o leitor é conduzido nesse passeio pelo Brasil. Ao mesmo tempo, dimensões concretas da experiência de homens e mulheres ameaçados pelo vírus são exploradas de forma a compor o jogo de escalas que opera na narrativa, dos macroprocessos políticos aos fazeres cotidianos. Essa é outra linha de força do livro, que traz informações sobre chás, beberagens, xaropes, gargarejos e tônicos alardeados como “milagrosos” na prevenção ou no combate à espanhola. Em São Paulo, a cachaça com mel e limão foi considerada um santo remédio. Em Belo Horizonte, a preferência era pelo conhaque de ameixa com água gaseificada, mas um saquinho com bolotas de naftalina e alho amarrado ao pescoço também podia dar resultado. Como não havia consenso entre as autoridades médicas sobre o tratamento eficaz, a população buscava ajuda com base em saberes populares ou terapêuticas sem fundamento científico. As farmácias venderam muito laxante, pois acreditava-se que intestinos limpos ajudavam o corpo a vencer a doença. O remédio mais popular, porém, foi o sal de quinino, ou cloroquinino, usado no tratamento da malária, mas cuja ação contra a gripe não tinha qualquer comprovação.
No quesito profilaxia e tratamento, o jogo entre passado e presente é muito evidente. O fato de a cloroquina ter sido propagandeada no combate à Covid-19, ainda que sua ineficácia tenha sido rapidamente atestada pela ciência, salta aos olhos. Do mesmo modo, conhecer as recomendações para conter a espanhola nos leva a pensar como é possível, mais de um século depois, ouvir discursos contrários ao uso de máscaras e observar posturas de afronta ao distanciamento social. A ciência é categórica com relação a esses cuidados, mas sua autoridade é contestada por uma força desconhecida em 1918.
No início do século XX, como sublinham Schwarcz e Starling, a confiança no progresso e na ciência estava em alta. Embora doenças como a febre amarela, a peste bubônica e o cólera ainda castigassem países como o Brasil, a medicina fizera avanços importantes ao redor do mundo e a ciência era um bastião associado à própria ideia de “civilização ocidental”. Hoje, o negacionismo científico busca desacreditar a ciência por meio de discursos que afrontam consensos amplamente consolidados em favor de teses obscurantistas que atendem a interesses políticos, religiosos e/ou econômicos. As condições de emergência desse tipo de discurso têm sido analisadas ao redor do mundo, mas a reflexão não ameniza a sensação de retrocesso e degradação produzida pela vaga negacionista.
No rol das armas para combater a espanhola e seus efeitos -que incluíam o desemprego, a fome, o medo- não faltou o apelo ao sagrado. Em Salvador, um mês e meio depois do aparecimento dos primeiros casos de gripe, o arcebispo primaz do Brasil determinou que os sacerdotes da cidade celebrassem a “missa recordare contra pestem”, rito católico de proteção contra a peste negra que devastou a Europa no século XIV. A religiosidade da capital baiana foi evocada também por meio de rituais de cura do candomblé, do espiritismo e da umbanda, a despeito da perseguição que as autoridades moviam contra essas religiões, associadas à população negra e mestiça. Nosso Senhor do Bonfim e Omulu, orixá que protege das doenças, foram igualmente solicitados. Em Belém, circulou a notícia de que a imagem de Nossa Senhora da Consolação, exposta em uma igreja da Cidade Velha, havia vertido uma lágrima, o que gerou grandes romarias em busca de proteção da santa. Na capital paraense, o catolicismo também dividiu espaço com a pajelança, ritual que combinava práticas indígenas, xamânicas e afro-brasileiras.
As populações vulneráveis, cujo acesso à saúde era ainda mais precário do que a média e em cujo cotidiano a carestia provocada pelo desabastecimento ou pela ganância produzia efeitos dramáticos, tinham ainda que conviver com o estigma que as associava à própria doença. Em Salvador, um relatório da comissão médica nomeada pela Diretoria-Geral de Saúde Pública para indicar causas e soluções para a crise apontou que a rápida propagação da espanhola se devia a focos existentes em habitações coletivas, apertadas e mal ventiladas, ou seja, os cortiços onde vivia a população pobre e mestiça. O titular da Secretaria do Interior, Justiça e Instrução da Bahia chegou a afirmar que apenas a “seleção natural”, poupando os mais resistentes, seria capaz de trazer de volta a normalidade, em clara expressão de teses eugênicas. O jornal O Estado de S. Paulo, em matéria de 17 de outubro de 1918, associou o bairro do Brás, habitado por operários, em geral imigrantes, a hábitos de higiene não recomendáveis, favoráveis à propagação da gripe. Em Belém, a chamada Vila Podrona, área periférica onde fora construído o primeiro matadouro da cidade, foi apontada como responsável pela disseminação da doença em matéria de 31 de outubro no Estado do Pará. Nesses casos, o “outro” que se pretendia culpabilizar estava dentro das fronteiras nacionais, até mesmo municipais, mas apartado pela linha que demarcava espaços “saudáveis” e “contaminados”. Em uma tacada, os pobres eram responsabilizados por sua própria condição de precariedade e por problemas sanitários que as autoridades não conseguiam resolver a contento.
Mas esse olhar sobre a pobreza não era hegemônico e convivia com ações de solidariedade e filantropia articuladas no âmbito da sociedade civil, aspecto que não escapou ao cenário multifacetado composto por Schwarcz e Starling. Organizações laborais, como a Federação Operária do Rio Grande do Sul; empresas privadas, como a Companhia Antarctica Paulista e a Companhia Nacional de Tecidos de Juta, em São Paulo; a Igreja católica, centros espíritas, associações de evangélicos e a maçonaria, além da Cruz Vermelha, se mobilizaram para ajudar os enfermos e as famílias mais necessitadas. Ainda em São Paulo, as autoras registraram a mobilização de clubes, como o Athletico Paulistano, o Palestra Itália e o Sport Clube Germania, que se transformaram em hospitais provisórios de isolamento. Ao longo dos capítulos, são muitos os exemplos de ações solidárias, doações de gêneros alimentícios, roupas, remédios e até água às populações mais atingidas pela epidemia.
Vale aqui uma reflexão. As autoras sugerem que, a partir do momento em que a espanhola se impôs como fato social incontornável no Brasil, teria ocorrido um “aumento da consciência cívica e do sentimento de pertencimento social”, reação comum diante de catástrofes semelhantes. Em 2020, apesar de haver engajamento por parte da sociedade civil, sobretudo ONGs que já atuavam em territórios periféricos, e ações solidárias por parte de igrejas e associações, a tragédia não parece produzir consciência cívica, entendida como uma responsabilidade compartilhada com relação ao bem comum, um sentido forte de comunidade. Não é possível aprofundar aqui esse debate ou buscar eventuais causas (do individualismo exacerbado característico da modernidade tardia ao contexto político degradado que o país enfrenta, sobretudo após a eleição de um presidente negacionista, inepto e indiferente ao destino do povo). O fato é que, mesmo diante de centenas de milhares de mortos, e diferentemente do que foi observado por Schwarcz e Starling em 1918, as cisões internas e o desdém pelo bem comum parecem, estranha e tristemente, robustecidos.
Antes de finalizar, uma palavra sobre o último capítulo do livro. Intitulado “Quem matou Rodrigues Alves?”, o texto destoa dos capítulos anteriores. Aqui a espanhola é coadjuvante. A protagonista é a morte, em janeiro de 1919, do presidente eleito em 1 de março do ano anterior, e que não chegara a tomar posse. O capítulo detalha o ritual fúnebre, explorando a dimensão cívica assumida pelos funerais dos “grandes homens” na Primeira República, mas é nas escaramuças políticas que a morte de Rodrigues Alves ganha sentido e se articula à espanhola. Sua candidatura fora uma cartada das oligarquias paulistas diante da pressão de outros estados que também almejavam o Palácio do Catete, sede do governo federal. Reconhecido como um político hábil e conciliador, seu nome foi capaz de aglutinar interesses regionais e garantir a vitória a São Paulo. O problema surgiu quando o atestado de óbito foi publicado nos jornais com a menção à causa mortis: “assistolia aguda no curso de uma anemia perniciosa”. Ou seja, Rodrigues Alves morreu de uma parada cardíaca que sobreveio a uma doença crônica. A suspeita de que o presidente estava doente há muito tempo e que a informação era sabida por aqueles que articularam a sua candidatura começou a ser ventilada em alguns jornais e na revista Careta, com potencial de causar enorme estrago político. É aí que entra a espanhola e os boatos de que ela teria vitimado o presidente eleito. Como a realidade dava sustentação à versão e os interesses em jogo eram poderosos, foi a que vigorou por um século.
O livro é composto, portanto, por nove capítulos que acompanham os desafios impostos pela gripe espanhola, no mundo e no Brasil, e um que analisa como ela foi usada politicamente em uma situação que nada teve a ver com a crise sanitária. Em todos eles, a arte de recriar contextos se destaca. A riqueza de aspectos contemplados na narrativa acessível a qualquer leitor interessado no tema evidencia a pesquisa ampla que dá sustentação ao texto. Chama atenção, sobretudo nos capítulos sobre Recife, Salvador e as capitais amazônicas, a quantidade de teses e dissertações cotejadas, indicando uma produção acadêmica recente e de qualidade no campo da história das ciências e da saúde no Brasil. A bailarina da morte é um convite a seguir percorrendo as sendas desse Brasil complexo e desigual em busca do conhecimento que, como ensina Krenak, nos tornará capazes de atravessar a imensa escuridão.
Notes
1
Lilia M. Schwarcz, Heloisa M. Starling, A bailarina da morte. A gripe espanhola no Brasil, São Paulo, Companhia das Letras, 2020.